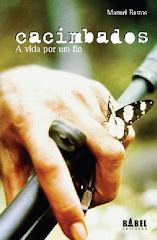segunda-feira, 20 de dezembro de 2010
domingo, 19 de dezembro de 2010
Um último olhar para lá do arvoredo
 O helicóptero acabara de levantar voo, deixando todo o aquartelamento envolto numa espessa nuvem de poeira cor de tijolo, que parecia querer encardir toda a felicidade que acabava de ser exteriorizada por soldados de olhar incerto, embora mais confiantes pelos momentos que acabavam de viver.
O helicóptero acabara de levantar voo, deixando todo o aquartelamento envolto numa espessa nuvem de poeira cor de tijolo, que parecia querer encardir toda a felicidade que acabava de ser exteriorizada por soldados de olhar incerto, embora mais confiantes pelos momentos que acabavam de viver.Decorria ainda o mês de Setembro, e já uma equipa de Rádio Televisão Portuguesa se deslocara ao minúsculo aquartelamento para filmar as tradicionais mensagens de natal, para serem exibidas no final do mês natalício.
Chegados Dezembro e depois de tomarem conhecimento da operação que iria ser desencadeada, os soldados dirigiam-se para as tendas de lona a fim de se prepararem para a missão anunciada, que consistia em desmantelar uma pequena base da FRELIMO localizada nas coordenadas indicadas num dos mapas na posse do alferes que iria comandar a operação.
Embrenhados na mata, recordando as mensagens de natal arrancadas a custo e que chegariam às mais recônditas aldeias como se fora uma prenda desembrulhada à distância, olhavam agora, carregados de incertezas, pelo que lhes esperava para lá daquele arvoredo denso, muito verdejante e muito belo, mas que já fora, noutras circunstâncias, cenário de muitas angústias e de felicidades adiadas, tentando disfarçar os vários medos que lhes inundavam a alma:
― É pá Francisco[1]! ― As nossas miúdas devem estar prestes a ver a nossa tromba na televisão.
― Ainda te Lembras? ― Até parecia que tinhas medo do microfone! ― Agarraste naquilo com a ponta dos dedos e tremias tanto que até parecia que estavas a bater uma punheta grilos…
― Aquilo era apenas um microfone e não mordia a ninguém ― Disse o Carriço, tentando ridicularizar o amigo sem que os restantes elementos do pelotão que seguiam em fila indiana lhe dessem qualquer atenção.
Muito longe dali, em Trás-os Montes, na aldeia de Moure, em pleno mês de natal e enquanto os fumeiros deixavam escapar por entre os telhados de ardósia o fumo branco que ajudara a corar as chouriças dependuradas nas chaminés, e depois de o gado, um pouco mais cedo, ter sido aconchegado bem longe dos lobos que já uivavam junto à “Pedra da Avó”, já os aldeãos se juntavam na Casa do Povo, aquecidos por grossos madeiros em redor da única televisão do povoado, para assistirem às mensagens de natal transmitidas das Colónias, na ânsia de reverem um seu familiar que antecipadamente lhes avisara do dia da sua transmissão.
― Quando a minha cachopa me vir na televisão com esta barba e esta bigodaça, vai logo dizer que não pareço o mesmo que se foi despedir dela no Cais de Alcântara ― Disse o Francisco que denotava transbordar de felicidade pela possibilidade que teve de falar para a família durante aquelas filmagens, sem prestar atenção aos avisos que o alferes mandou transmitir de soldado para soldado, para que caminhassem em silêncio, pois estava-se muito próximo do objectivo, numa zona onde se supunha existir uma das bases da FRELIMO na região.
Pelo caminho, espetados nas árvores, foram encontrando pequenos panfletos que em tom de aviso incitavam as tropas vindas de Lisboa a desertar, onde se acrescentava, para além de outros recados que tinham um destinatário bem definido:
― (…) Os nossos inimigos não são vocês soldados portugueses, que consideramos nossos irmãos, mas sim quem de Lisboa vos obrigou a embarcar para uma guerra que sabem ser injusta, e vos mandaram matar o nosso povo e atrasar a nossa independência do jugo colonial (…).
Aqueles panfletos, alguns deles escritos em vários dialectos e assinados por Samora Machel, foram logo arrancados das mãos dos soldados pelo alferes que comandava o Grupo de Combate, enquanto que em voz baixa ia dizendo bastante irritado:
― Não liguem ao que esses cabrões dizem ― O que eles querem é toldar-vos as ideias e minar o nosso moral ― Ao mesmo tempo que gesticulava meio encoberto pelo capim, dando ordens para que todos se concentrassem na acção e se dispusessem em posição de ataque, pois as primeiras palhotas já se avistavam por entre o arvoredo.
Momentos antes e ainda afastados do objectivo, tinham sido sobrevoados pelo “Bocas”[2], que na sua “missão evangelizadora” lá ia vomitando slogans enganadores, que apelavam à rendição dos guerrilheiros embrenhados na mata a troco de algumas “bugigangas”, acontecimento que deu azo a vários comentários entre alguns soldados do Grupo de Combate envolvido naquela operação e que seguiam na retaguarda:
― Lá andam os gajos da PIDE na sua Psico-Social ― Ao que outro que lhe estava mais próximo respondeu:
― Embora seja uma missão coordenada pela PIDE, estes sabujos raramente andam lá ― Quem anda no “Bocas” é mais a malta da nossa tropa ― ao que o primeiro respondeu certificando-se se o alferes não estava próximo:
― Que interessa se são os PIDES que lá vão ou não, se quem lá vai a bordo daquele pedaço de lata ferrugento (sobrevivente da guerra do Vietname), se presta a fazer o mesmo trabalho sujo, e se mostra fiel e zeloso servidor do regime! ― Até parece que não sabes que aquela malta é toda “escolhida a dedo” ― Concluiu.
Enquanto as imagens que foram filmadas três meses antes iam desfilando no televisor naquela tarde do dia 25 de Dezembro, os olhos de quem enchia a Casa do Povo não se desviavam do pequeno ecrã, cada um à procura de algo que pareciam ter perdido e que de momento ainda não tinham encontrado.
Foi uma explosão de alegria quando a Josefa viu aparecer a imagem do seu namorado, reconhecendo-o logo de imediato apesar da barba que lhe envolvia a face:
― Oh carago! ― Eu não o quero cá todo barbudo ― Quando o meu Francisco vier da guerra mando-o logo ao Sr. Inácio para lhe rapar aquele pêlo todo.
Era uma atmosfera de contentamento, deveras entusiástica que se vivia naquele recinto da aldeia, momento raro desde que o Francisco partira para África há cerca de 22 meses.
No preciso momento em que se desfrutavam aquelas imagens transmitidas tardiamente e o rosto de toda aquela gente se inundava de alegria, foi quando, muito longe dali, nos confins da mata verdejante do norte de Moçambique, algures num ponto desconhecido do Planalto dos Macondes, a cerca de 25 quilómetros do Aquartelamento de Nangade, fora dada ordem de ataque àquela base da FRELIMO, desencadeando-se de imediato um ensurdecedor tiroteio que transformou a tranquilidade daquele arvoredo numa imensa tempestade, onde se adivinhava um “trágico naufrágio sem que tivesse havido qualquer aviso à navegação”.
Terminada a operação e ainda o cheiro a pólvora não tinha assentado no capim, já se denotava uma perturbante azáfama entre os soldados na recolha do material apreendido e na contagem dos guerrilheiros abatidos, enquanto alguém, numa das extremidades da pequena base já com todas as palhotas em chamas, gritava em jeito de aflição e profundamente desesperado:
― Porra! ― Onde está o enfermeiro? ― Venham aqui depressa ― Estão aqui dois gajos nossos gravemente feridos e um deles parece mesmo estar a lerpar!
O Francisco agonizava desesperadamente com as mãos apertando o abdómen, tentando esconder até que ponto fora esventrado por uma rajada de Kalashnikov, enquanto ia sussurrando para o enfermeiro que acabara de chegar, cuja frase se assemelhava a um leve sopro que já soava muito distante:
― É pá “seringas” de merda! ― Não me deixes morrer aqui… ― Que mal fiz eu a deus para deixar que estes gajos me tratassem tão mal…? ― Enquanto os seus olhos se desvaneciam e deitavam um último olhar em jeito de despedida, para bem longe dali, muito para lá do arvoredo.
Prestados os primeiros socorros aos restantes feridos, desmatada a área de algumas pequenas árvores e criada uma clareira para facilitar o acesso do helicóptero de evacuação, aquele recanto da mata assistia silencioso ao “desmoronar de mais um castelo”, cuja felicidade iria ser interrompida também muito longe dali, quando o carteiro entregasse na aldeia o telegrama do Estado Maior do Exército a anunciar, tão friamente e sem expressar qualquer sentimento de culpa, o falecimento em combate do Francisco.
Era natal. Decorria o ano de 1973, e aquele Grupo de Combate regressava agora ao Aquartelamento mergulhado num silêncio tão perturbador, só possível de ser quebrado pela raiva incontida de um dos soldados que agora se sentia órfão do seu melhor amigo:
― Epá malta! ― O Francisco lerpou[3], o “Carapinha” ficou com o seu futuro amputado: ― Prosseguindo o protesto com as lágrimas a escorrerem-lhe pela face, acompanhadas por um soluçar extremamente comovente:
― Mas afinal! ― O que é que anda a fazer esse gajo que dizem ter nascido em Dezembro para abençoar e salvar o mundo? ― Ao que o soldado que seguia à sua frente lhe respondeu muito baixinho, certificando-se que mais ninguém o ouvia:
― Isso são tudo tretas ― Ele nunca se preocupou connosco ― Nesta puta de guerra ele apenas tem abençoado os donos das plantações de algodão e dos extensos cafezais; os mesmos que há muito chafurdam em redor da mesma gamela que tem engordado estes “Chicos”, que fazem desta guerra o seu salário.
Carlos Vardasca
19 de Dezembro de 2010
[1] Nome fictício atribuído a este militar, para respeitar a vontade dos seus familiares que solicitaram que não se mencionasse o seu nome nem a Companhia a que pertencia.
[2] Dakota, avião da Força Aérea dotado de um potente altifalante, que sobrevoava os aldeamentos e as zonas onde se previa existirem bases da FRELIMO, lançando panfletos e propaganda sonora para convencer os guerrilheiros a entregarem-se às nossas tropas.
[3] Morreu. Na gíria militar.
Marcadores:
Um último olhar para lá do arvoredo
segunda-feira, 22 de novembro de 2010
“Regressámos todos tão diferentes”

Éramos todos ainda muitos meninos, folheando uma qualquer página dos nossos livros da escola, quando em África os ventos da revolta começaram a soprar.
Dos que tiveram o privilégio de brincar com brinquedos a sério, aos que dos restos dos outros souberam improvisar a gancheta e o arco; o carrinho de rolamentos; o jogo das caricas e dos bugalhos, até aos que sem infância tão rápido se tornaram homens e do arado moldaram as terras, a todos nos parecia estarmos a crescer muito devagar para que a guerra ainda nos apanhasse de soslaio.
Dos bancos da escola até ao primeiro namoro no adro da igreja, a todos nós sempre nos era dito que quando chegasse a nossa vez já aquilo em África tinha findado há muito.
Apesar de tudo, e enquanto a nossa juventude nos foi escapando enleada em incertezas, inesperadamente, foi chegado o momento em que o carteiro nos trouxe aquele papel timbrado, que nos dizia já sermos homens e ser a altura para abandonarmos o aconchego familiar.
Na recruta, encafuados naqueles casebres feitos casernas depois de termos sido expulsos do lar, suportámos a brutalidade e a arrogância de certos instrutores que diziam ser necessária aquela agressividade para nos tornarmos bons combatentes, fomos, apesar de tudo, mantendo os nossos sorrisos de infância e recordámos as brincadeiras que não tivéramos tempo de brincar em criança, embora já nos tivessem transformado em “meninos soldados”.
Enviados para a guerra, onde convivemos diariamente com a angústia e a incerteza, mas também com a perca de alguém com quem partilhámos os medos e as várias faces dos silêncios; a última gota de água do cantil; a mesma frescura do capim, os sorrisos aos poucos foram-se desvanecendo e os nossos olhares toldaram-se de raiva, tornaram-se frios, distantes, absurdamente melancólicos e, obviamente muito tristes.
Cada momento vivido no isolamento do interior da mata; da felicidade vivida em momentos tão raros que logo se desvanecia nos ataques constantes aos aquartelamentos; da sensação de alívio por se ter escapado a uma emboscada ou à impaciência pela chegada do helicóptero e à desilusão por uma carta que nunca chegava, todos estes momentos foram moldando cada uma das nossas expressões, como quem desconfia que fora enviado para ali para morrer.
Regressados da guerra e com alguns companheiros “deixados para trás”, de regresso às aldeias e às cidades que nos viram partir ainda meninos, alguns dos nossos olhares distantes pareciam não querer reconhecer quem nos amou à distância, apesar dos abraços apertados e das nossas lágrimas que caiam nos ombros de quem nos abraçava.
Vivendo constantemente em sobressalto, recriando cenários de guerra intensamente vividos mesmo que estes há muito já estivessem distantes; reagindo aos carinhos de quem nos amava com a agressividade inconsciente de quem se sentia constantemente ameaçado; sem capacidade para compreender (e ser compreendido) que todo aquele comportamento fora adquirido em clima de guerra e tinha uma causa, um nome (stress de guerra pós traumático) muitos, involuntariamente, fomos deixando morrer aquilo que mais ansiávamos, quando no fundo dos abrigos e à luz de uma vela delineámos outros planos e que agora os sentíamos escapar, sem que os nossos olhares tristes sentissem a força suficiente para os conseguir agarrar.
Incompreendidos pela família (que sem ter vivido a guerra com ela foi obrigada a conviver diariamente os seus sobressaltos, ano após ano, até à ruptura conjugal) pelos governos que nos ignorou e pela sociedade que nos olhava de lado como se nós tivéssemos sido os verdadeiros colonialistas, vimos muitos dos nossos companheiros a serem atirados para a marginalidade, fazendo agora novos amigos, vegetando pelas arcadas do Terreiro do Paço feitos sem-abrigo, partilhando com outros de igual sorte a sua condição a quem contavam as suas mágoas, confortando-se mutuamente sem esperar nada em troca, até que o suicídio lhes arrancasse o último pedaço das suas vidas.
É este o drama muitas vezes escondido de muitos daqueles a quem foi dito “que a pátria estava em perigo” e a quem se exigiu que dissessem logo presente, sem olhar a quem, e que ainda hoje vivem desprezados por essa mesma pátria que os pariu e que deles se serviu para logo os esquecer e os “atirar para a berma da estrada”.
Se tomarmos bem consciência do quanto nos afectou aquele período colonial e embora muitos de nós não fossemos atingidos por aqueles dramas, apesar de termos partilhado os mesmos medos, de uma coisa temos todos a certeza: ― Nenhum de nós voltou a ser o que era e, sem nos darmos conta, “Regressámos todos tão diferentes”.
Carlos Vardasca
22 de Novembro de 2010
Dos que tiveram o privilégio de brincar com brinquedos a sério, aos que dos restos dos outros souberam improvisar a gancheta e o arco; o carrinho de rolamentos; o jogo das caricas e dos bugalhos, até aos que sem infância tão rápido se tornaram homens e do arado moldaram as terras, a todos nos parecia estarmos a crescer muito devagar para que a guerra ainda nos apanhasse de soslaio.
Dos bancos da escola até ao primeiro namoro no adro da igreja, a todos nós sempre nos era dito que quando chegasse a nossa vez já aquilo em África tinha findado há muito.
Apesar de tudo, e enquanto a nossa juventude nos foi escapando enleada em incertezas, inesperadamente, foi chegado o momento em que o carteiro nos trouxe aquele papel timbrado, que nos dizia já sermos homens e ser a altura para abandonarmos o aconchego familiar.
Na recruta, encafuados naqueles casebres feitos casernas depois de termos sido expulsos do lar, suportámos a brutalidade e a arrogância de certos instrutores que diziam ser necessária aquela agressividade para nos tornarmos bons combatentes, fomos, apesar de tudo, mantendo os nossos sorrisos de infância e recordámos as brincadeiras que não tivéramos tempo de brincar em criança, embora já nos tivessem transformado em “meninos soldados”.
Enviados para a guerra, onde convivemos diariamente com a angústia e a incerteza, mas também com a perca de alguém com quem partilhámos os medos e as várias faces dos silêncios; a última gota de água do cantil; a mesma frescura do capim, os sorrisos aos poucos foram-se desvanecendo e os nossos olhares toldaram-se de raiva, tornaram-se frios, distantes, absurdamente melancólicos e, obviamente muito tristes.
Cada momento vivido no isolamento do interior da mata; da felicidade vivida em momentos tão raros que logo se desvanecia nos ataques constantes aos aquartelamentos; da sensação de alívio por se ter escapado a uma emboscada ou à impaciência pela chegada do helicóptero e à desilusão por uma carta que nunca chegava, todos estes momentos foram moldando cada uma das nossas expressões, como quem desconfia que fora enviado para ali para morrer.
Regressados da guerra e com alguns companheiros “deixados para trás”, de regresso às aldeias e às cidades que nos viram partir ainda meninos, alguns dos nossos olhares distantes pareciam não querer reconhecer quem nos amou à distância, apesar dos abraços apertados e das nossas lágrimas que caiam nos ombros de quem nos abraçava.
Vivendo constantemente em sobressalto, recriando cenários de guerra intensamente vividos mesmo que estes há muito já estivessem distantes; reagindo aos carinhos de quem nos amava com a agressividade inconsciente de quem se sentia constantemente ameaçado; sem capacidade para compreender (e ser compreendido) que todo aquele comportamento fora adquirido em clima de guerra e tinha uma causa, um nome (stress de guerra pós traumático) muitos, involuntariamente, fomos deixando morrer aquilo que mais ansiávamos, quando no fundo dos abrigos e à luz de uma vela delineámos outros planos e que agora os sentíamos escapar, sem que os nossos olhares tristes sentissem a força suficiente para os conseguir agarrar.
Incompreendidos pela família (que sem ter vivido a guerra com ela foi obrigada a conviver diariamente os seus sobressaltos, ano após ano, até à ruptura conjugal) pelos governos que nos ignorou e pela sociedade que nos olhava de lado como se nós tivéssemos sido os verdadeiros colonialistas, vimos muitos dos nossos companheiros a serem atirados para a marginalidade, fazendo agora novos amigos, vegetando pelas arcadas do Terreiro do Paço feitos sem-abrigo, partilhando com outros de igual sorte a sua condição a quem contavam as suas mágoas, confortando-se mutuamente sem esperar nada em troca, até que o suicídio lhes arrancasse o último pedaço das suas vidas.
É este o drama muitas vezes escondido de muitos daqueles a quem foi dito “que a pátria estava em perigo” e a quem se exigiu que dissessem logo presente, sem olhar a quem, e que ainda hoje vivem desprezados por essa mesma pátria que os pariu e que deles se serviu para logo os esquecer e os “atirar para a berma da estrada”.
Se tomarmos bem consciência do quanto nos afectou aquele período colonial e embora muitos de nós não fossemos atingidos por aqueles dramas, apesar de termos partilhado os mesmos medos, de uma coisa temos todos a certeza: ― Nenhum de nós voltou a ser o que era e, sem nos darmos conta, “Regressámos todos tão diferentes”.
Carlos Vardasca
22 de Novembro de 2010
Foto: Regresso de tropas de Moçambique a bordo do "Vera Cruz". Lisboa 1971
domingo, 21 de novembro de 2010
Estamos todos tão diferentes
 A brincadeira começou, quando, ao ver a foto que me tiraram, aquando da caminhada que fiz com outros companheiros, da cidade romana de Ammaia para Marvão (cerca de 11 km), me lembrei da outra foto, que me tiraram em Negomano, à chegada de uma operação de 4 dias (a foto é real, não encenada).
A brincadeira começou, quando, ao ver a foto que me tiraram, aquando da caminhada que fiz com outros companheiros, da cidade romana de Ammaia para Marvão (cerca de 11 km), me lembrei da outra foto, que me tiraram em Negomano, à chegada de uma operação de 4 dias (a foto é real, não encenada). A similitude, se assim se pode chamar, reside no facto de adorar andar no mato, com ar puro, a subir e descer escarpas. Lembro-me de uma caminhada que fiz, na Serra da Arrábida, há cerca de cinco anos, em que, para vencer algumas zonas, tive que andar de quatro, agarrado às raízes do mato.
O notório, para mim desta brincadeira, é a evolução da arma que tenho na mão, numa a G3 de má memória (a minha terminava em 115), na outra os bastões de caminhada. Nada mais. Uma brincadeira e a história é tão somente esta.
Abraço.
Militão Camacho*
*Ex- Alferes Miliciano NM 09383768 da Companhia de Caçadores 3311 (Batalhão de Caçadores 3834)
Fotos: Militão Camacho no Aquartelamento de Negomano (Moçambique 1971) no regresso de uma operação de quatro dias, e a outra de regresso de uma caminhada de cerca de 11 quilómetros com uns amigos, da cidade romana de Ammaia a Marvão (2010).
quarta-feira, 17 de novembro de 2010
"Mais uma baixa" na Companhia de Caçadores 3311 (Batalhão de Caçadores 3834)

 Informam-se todos ex-militares do Batalhão de Caçadores 3834, que faleceu devido a doença o ex-Furriel Miliciano Atirador NM 16029370, João Fernando Gonçalo Cruz, do 3º Pelotão da Companhia de Caçadores 3311 que esteve estacionada no aquartelamento de Negomano, Província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique.
Informam-se todos ex-militares do Batalhão de Caçadores 3834, que faleceu devido a doença o ex-Furriel Miliciano Atirador NM 16029370, João Fernando Gonçalo Cruz, do 3º Pelotão da Companhia de Caçadores 3311 que esteve estacionada no aquartelamento de Negomano, Província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique.Este nosso companheiro nasceu em 18 de Junho de 1949 (tinha 61 anos de idade) era natural de Paleão, Soure, e residia em Vila Nova de Gaia.
Em nome de "Do Tejo ao Rovuma" e de todo o Batalhão, à família e amigos, enviamos as nossas condolências.
Carlos Vardasca
17 de Novembro de 2010
Foto 1: Tirada no Almoço Convívio da Companhia de Caçadores 3311 em 2009, onde o João Cruz (de camisa azul e de óculos) está na companhia do ex-Alferes Menino (ao centro) e do ex-Furriel Maia, todos eles pertencentes ao 3º Pelotão da mesma Companhia.
Foto 2: Vista aérea do Aquartelamento de Negomano, onde esteve estacionada a Companhia de Caçadores 3311. O Aquartelamento de Negomano ficava junto ao Rovuma, rio que fazia fronteira com a Tanzânia.
segunda-feira, 15 de novembro de 2010
Furriel Castro Guimarães. Desaparecido em combate em 15 de Novembro de 1972
 Faz precisamente hoje, dia 15 de Novembro de 2010, 38 anos que o Furriel Castro Guimarães faleceu em combate, abatido por forças tanzanianas nas margens do rio Rovuma (e levado para aquele país onde se supõem estar sepultado na aldeia de Kytaia) quando participava numa operação integrado num dos grupos de combate dos GEs 212 estacionados no Aquartelamento de Nhica do Rovuma (Norte de Moçambique - Província de Cabo Delgado).
Faz precisamente hoje, dia 15 de Novembro de 2010, 38 anos que o Furriel Castro Guimarães faleceu em combate, abatido por forças tanzanianas nas margens do rio Rovuma (e levado para aquele país onde se supõem estar sepultado na aldeia de Kytaia) quando participava numa operação integrado num dos grupos de combate dos GEs 212 estacionados no Aquartelamento de Nhica do Rovuma (Norte de Moçambique - Província de Cabo Delgado).Anualmente, "Do Tejo ao Rovuma" aqui lhe presta a devida homenagem, e assim o fará (mesmo reconhecendo a sua complexidade) até que se conclua este processo, que se deseja com a descoberta do local da sua sepultura e a transladação do seus restos mortais para Portugal e para junto dos seus familiares.
Várias diligências já foram efectuadas com o objectivo de obter contactos que nos levem cada vez mais próximos daquela aldeia tanzaniana, o último dos quais (do qual já prestamos essa informação neste espaço) com o padre José Alexandre da Missão dos Missionários da Boa Nova radicados em Moçambique na localidade de Malema, que prometeu colaborar com esta causa e encetar os contactos necessários para a resolução da mesma.
Mais recentemente, fui contactado aqui em Alhos Vedros pelo Diamantino Fernandes, ex-1º Cabo Transmissões da CCS do Batalhão de Cavalaria 3837, que no dia 23 de Outubro se deslocou a Moçambique (mais concretamente à povoação de Nangololo, onde se desloca com alguma regularidade) que não quis seguir viagem sem falar comigo sobre este caso, para que durante a sua estadia naquele país tentar, junto de contactos que diz ter junto de ex-guerrilheiros, hoje altos quadros da FRELIMO, contribuir também para a resolução do mesmo.
Hoje mesmo, decidi "abrir uma nova frente", alargando os contactos, ao escrever uma carta ao Embaixador da República Unida da Tanzânia em Paris, que reproduzo em baixo (em Portugal não existe embaixada deste país) com o objectivo de usar a sua influência e interceder junto das autoridades do seu país para que se investigue a existência de alguma sepultura daquele soldado português na aldeia de Kytaia.
Dando seguimento ao lema "Ninguém deve ser deixado para trás" a ele continuaremos a ser fieis.
Em jeito de homenagem, aqui fica um abraço solidário de quem sobreviveu.
Carlos Vardasca
15 de Novembro de 2010
Foto 1: O Furriel Castro Guimarães com as idades de 15 e 22 anos.
Foto 2: O Furriel Castro Guimarães em Palma (fardado de negro) junto de outros seus companheiros. 1972
Foto 3: O Furriel Castro Guimarães em Moçimboa do Rovuma (em tronco nu, na primeira fila em cima) junto dos seus companheiros da CCS do Batalhão de Caçadores 3874. 1972
De: Carlos Alberto Correia Braz Vardasca
Rua António Hipólito da Costa nº 5 – 1º Esqº
2860-045 Alhos Vedros - Portugal
Telef: 212020157
Telem: 963899868
E-mail: carlosvardasca@netcabo.pt
Blogue: http://dotejoaorovuma-cabel.blogspot.com/
Para: Embaixada da República Unida da Tanzânia
13, Avenue Raymond Poincaré – Paris
Exmo. Sr. Embaixador
Sou um ex-militar envolvido na Guerra Colonial durante a ocupação de Moçambique por Portugal, e vinha por este meio solicitar a vossa prestimosa colaboração para o seguinte caso que irei tentar resumir.
Em 15 de Novembro de 1972, um Grupo de Combate do exército português deslocou-se do Aquartelamento de Nhica do Rovuma[1] com o objectivo de recolher informações do outro lado da fronteira (Tanzânia), se existiam populações oriundas de Moçambique enviadas para ali para trabalhar em machambas[2] para abastecer de alimentos os guerrilheiros da FRELIMO, que naquela altura lutavam contra a ocupação do seu território pelo exército português.
Após aquele Grupo de Combate ter chegado às margens do rio Rovuma e ter deparado com movimento de populações na margem norte do rio (do outro lado da fronteira) o militar que comandava aquela força de intervenção[3], inadvertidamente começou a percorrer um extenso areal que se formara no meio do rio e que se estendia até muito perto do outro lado da fronteira com a Tanzânia, com o objectivo de encetar conversa com algumas mulheres que lavavam a roupa no rio e tentar recolher as informações que constavam do objectivo da operação.
Apesar de ter sido avisado pelos companheiros dos perigos que corria, ele continuou a percorrer o areal e, já muito próximo da margem do rio do lado da Tanzânia, ouviram-se dois tiros e o seu corpo ficou caído no areal.
Sabendo dos riscos que tal intervenção poderia acarretar e como já estava a escurecer, ninguém daquela força de intervenção se arriscou a ir recuperar o corpo, tendo aguardado para o dia seguinte para tomar qualquer posição sobre a forma de resgatar o corpo do militar abatido.
No dia seguinte, e ao observar-se o areal onde o corpo se encontrava, o mesmo já tinha desaparecido, pensando-se que possivelmente teria sido levado pela maré ou por qualquer animal selvagem.
Cancelada a operação e chegados ao Aquartelamento de Nhica do Rovuma, um dos soldados do Grupo de Combate envolvido naquela operação ouviu noticiar em dialecto Swahili através de uma rádio da Tanzânia, que anunciava terem as forças Tanzanianas capturado um soldado português, descrevendo as suas características assim como o tipo de arma e alguns objectos pessoais que trazia consigo.
Decorridos alguns meses, o exército português também consegue ter acesso a um jornal da Tanzânia em língua inglesa, onde é noticiada a captura do mesmo militar, sendo a notícia ilustrada com algumas fotos, onde se pode ver o corpo do militar abatido a ser exibido junto de oficiais do exército tanzaniano, o que comprova que, por ter sido um militar abatido em combate, possivelmente algum destino foi dado ao seu corpo, tendo sido sepultado em algum local, o que se presume ter sido na aldeia de Kytaia[4], dado ser a povoação tanzaniana mais próxima do local onde ocorreu o incidente em 15 de Novembro de 1972.
Tendo-o colocado ao corrente do que ocorrera naquela data, venho solicitar por esta forma que o Sr. Embaixador interceda junto das entidades oficiais responsáveis por este tipo de assuntos, no sentido de indagarem junto de responsáveis locais da aldeia de Kytaia, se alguém se lembra da ocorrência daquele incidente (algum ex-guarda fronteiriço, membro da população ou até mesmo algum ex-guerrilheiro da FRELIMO que ali se tivesse fixado) e poderem informar em que local foi sepultado o referido militar português, para que os seus restos mortais, depois de formalizadas todas as questões legais, possam ser transladados para Portugal e para mais próximo dos seus familiares.
Certo que o Sr. Embaixador reconhecerá tratar-se de uma questão humanitária, tendo em conta que os familiares do referido militar há muito anseiam recuperar o seu corpo para lhe prestarem a devida homenagem, aguardo com alguma brevidade uma resposta sua a este apelo, agradecendo desde já a sua prestimosa colaboração para a resolução deste caso, que após 36 anos do fim do conflito colonial que envolveu Portugal e Moçambique ainda não foi possível resolver.
Sem outro assunto de momento, muito atenciosamente
Alhos Vedros, 15 de Novembro de 2010
Carlos Alberto Correia Braz Vardasca
Rua António Hipólito da Costa nº 5 – 1º Esqº
2860-045 Alhos Vedros - Portugal
Telef: 212020157
Telem: 963899868
E-mail: carlosvardasca@netcabo.pt
Blogue: http://dotejoaorovuma-cabel.blogspot.com/
Para: Embaixada da República Unida da Tanzânia
13, Avenue Raymond Poincaré – Paris
Exmo. Sr. Embaixador
Sou um ex-militar envolvido na Guerra Colonial durante a ocupação de Moçambique por Portugal, e vinha por este meio solicitar a vossa prestimosa colaboração para o seguinte caso que irei tentar resumir.
Em 15 de Novembro de 1972, um Grupo de Combate do exército português deslocou-se do Aquartelamento de Nhica do Rovuma[1] com o objectivo de recolher informações do outro lado da fronteira (Tanzânia), se existiam populações oriundas de Moçambique enviadas para ali para trabalhar em machambas[2] para abastecer de alimentos os guerrilheiros da FRELIMO, que naquela altura lutavam contra a ocupação do seu território pelo exército português.
Após aquele Grupo de Combate ter chegado às margens do rio Rovuma e ter deparado com movimento de populações na margem norte do rio (do outro lado da fronteira) o militar que comandava aquela força de intervenção[3], inadvertidamente começou a percorrer um extenso areal que se formara no meio do rio e que se estendia até muito perto do outro lado da fronteira com a Tanzânia, com o objectivo de encetar conversa com algumas mulheres que lavavam a roupa no rio e tentar recolher as informações que constavam do objectivo da operação.
Apesar de ter sido avisado pelos companheiros dos perigos que corria, ele continuou a percorrer o areal e, já muito próximo da margem do rio do lado da Tanzânia, ouviram-se dois tiros e o seu corpo ficou caído no areal.
Sabendo dos riscos que tal intervenção poderia acarretar e como já estava a escurecer, ninguém daquela força de intervenção se arriscou a ir recuperar o corpo, tendo aguardado para o dia seguinte para tomar qualquer posição sobre a forma de resgatar o corpo do militar abatido.
No dia seguinte, e ao observar-se o areal onde o corpo se encontrava, o mesmo já tinha desaparecido, pensando-se que possivelmente teria sido levado pela maré ou por qualquer animal selvagem.
Cancelada a operação e chegados ao Aquartelamento de Nhica do Rovuma, um dos soldados do Grupo de Combate envolvido naquela operação ouviu noticiar em dialecto Swahili através de uma rádio da Tanzânia, que anunciava terem as forças Tanzanianas capturado um soldado português, descrevendo as suas características assim como o tipo de arma e alguns objectos pessoais que trazia consigo.
Decorridos alguns meses, o exército português também consegue ter acesso a um jornal da Tanzânia em língua inglesa, onde é noticiada a captura do mesmo militar, sendo a notícia ilustrada com algumas fotos, onde se pode ver o corpo do militar abatido a ser exibido junto de oficiais do exército tanzaniano, o que comprova que, por ter sido um militar abatido em combate, possivelmente algum destino foi dado ao seu corpo, tendo sido sepultado em algum local, o que se presume ter sido na aldeia de Kytaia[4], dado ser a povoação tanzaniana mais próxima do local onde ocorreu o incidente em 15 de Novembro de 1972.
Tendo-o colocado ao corrente do que ocorrera naquela data, venho solicitar por esta forma que o Sr. Embaixador interceda junto das entidades oficiais responsáveis por este tipo de assuntos, no sentido de indagarem junto de responsáveis locais da aldeia de Kytaia, se alguém se lembra da ocorrência daquele incidente (algum ex-guarda fronteiriço, membro da população ou até mesmo algum ex-guerrilheiro da FRELIMO que ali se tivesse fixado) e poderem informar em que local foi sepultado o referido militar português, para que os seus restos mortais, depois de formalizadas todas as questões legais, possam ser transladados para Portugal e para mais próximo dos seus familiares.
Certo que o Sr. Embaixador reconhecerá tratar-se de uma questão humanitária, tendo em conta que os familiares do referido militar há muito anseiam recuperar o seu corpo para lhe prestarem a devida homenagem, aguardo com alguma brevidade uma resposta sua a este apelo, agradecendo desde já a sua prestimosa colaboração para a resolução deste caso, que após 36 anos do fim do conflito colonial que envolveu Portugal e Moçambique ainda não foi possível resolver.
Sem outro assunto de momento, muito atenciosamente
Alhos Vedros, 15 de Novembro de 2010
Carlos Alberto Correia Braz Vardasca
*Carta para o Embaixador da República Unida da Tanzânia
[1] Destacamento militar das tropas portuguesas situado a norte de Moçambique, na Província de Cabo Delgado.
[2] Terrenos de cultivo.
[3] Furriel Miliciano NM, João Manuel de Castro Guimarães, do Grupo Especial 212 do exército português, estacionado no Aquartelamento de Nhica do Rovuma (Província de Cabo Delgado, norte de Moçambique).
[4] Aldeia situada no sul da Tanzânia próximo do rio Rovuma, rio que faz fronteira com a República de Moçambique.
Marcadores:
Furriel Castro Guimarães. GEs 212
sexta-feira, 5 de novembro de 2010
"Nem sempre fomos bons rapazes". Comentário de José Rui Ferraz, ex-Furriel Miliciano da C.CAÇ. 4243
 Amigo Vardasca
Amigo VardascaPermita-me que o trate assim, embora não tenha o prazer de o conhecer pessoalmente, você é das pessoas que não se conhecendo, logo à partida e pela maneira vertical como expressa as suas ideias se simpatiza.
Tem feito o favor de me enviar alguns E-mails que na generalidade tenho gostado, embora por motivos de ordem profissional, não tenha tido, até aqui, possibilidades de responder como desejaria e dado a minha opinião sobre assuntos versados.
Espero agora reverter essa situação se tal me for permitido, uma vez que chegou a altura de “encostar” às box´s após 47 anos de actividade laboral.
No caso da Guerra Colonial ou do Ultramar ou só da guerra de Moçambique, ou como lhe queiram chamar, todos os que por lá passaram têm uma maneira muito especial de dizer as coisas, o que para muitos foi um simples arranhão para outros são traumatismos profundos e inultrapassáveis.
Certo, certo é que quase todos os que por lá passaram, quando confrontados ou instados a falar sobre a guerra o fazem à sua maneira.
Das histórias contadas ressalta quase sempre o facto do “contador” ter passado aquilo que mais ninguém passou, ”ele” foi o herói, aquele que em condições adversas lutando contra tudo e todos conseguiu sempre dar a volta à situação, mercê do seu abnegando esforço e notável espírito de sacrifício etc. etc.
É pena não se lembrarem de contar as asneiras que também por lá fizeram, algumas por falta de preparação outras pela irreverência da juventude de que éramos portadores.
Embora não nos conhecendo pessoalmente muito provavelmente já nos cruzamos, pois eu fazia parte da Companhia de Caçadores 4243 que vos foi render a Muidine, no longínquo final de ano de 1972.
Digo longínquo ano de 72 tão longe no tempo e no entanto, por vezes, aqui tão perto, gravado no álbum de recordações que é a minha memória.
E é essa memória que não “branqueia” por nada o que os olhos viram, mas que muita boa gente faz por esquecer e a todo o custo tentam denegrir aqueles que continuam a chamar branco ao branco e preto ao preto.
Nem vale a pena relatar as atrocidades que tanto o “pessoal” como os civis cometeram contra as populações indefesas, já que passados estes anos todos, a generalidade dos intervenientes diz que sempre foram democratas que sempre trataram os negros bem etc. etc.
Muito do que é a memória colectiva é baseado na mentira e por isso nada melhor do que pôr uma “pedra” sobre o assunto, antes que se descubra que afinal alguns “democratas” eram e ainda são “faxos” de 1ª.
Atrever-me-ia a dizer QUE NEM SEMPRE FOMOS MAUS RAPAZES.
Pelo menos quando estávamos a dormir éramos “Good Boys” (mesmo assim era preciso não estarmos a sonhar).
Já me estou a alongar e a dar “seca” pelo que vamos ao que interessa e falemos do seu último (?) E-mail enviado por si e que como sempre li atentamente.
Já me tinha apercebido (como disse os afazeres profissionais eram muitos) que tinha ou andava a escrever memórias sobre a guerra colonial, e pode desde já contar que irei adquirir um exemplar “Do Tejo até ao Rovuma. Uma breve pausa num tempo das nossas vidas”, tanto mais que certamente ao relatar a sua vivência irá descrever também um pouco o que por lá passei.
Certamente versará temas relacionados com Muidine, Pundanhar, Palma, Nangade, Lago Namioca, O famoso "Trilho Turra" (ao Km 7).
Desejo-lhe, sinceramente, os maiores sucessos que certamente terá, pois a maneira serena como diz as coisas; o não enveredar por um “heroísmo” balofo que nesta altura é o que mais se vê por ai, primar por um relato objectivo descrevendo sempre da maneira mais simples o que pensa das diversas situações que por lá todos vivemos, tudo isso certamente fará do livro um sucesso e do seu autor alguém a respeitar.
É certo que muita gente irá refutar algumas afirmações, mas como disse atrás, o que para uns é um arranhão para outros é um profundo traumatismo.
Vão dizer que as coisas não foram bem assim, que até lhe explicam como tudo se passou, que se você puder dispor de um pouco do seu precioso tempo, eles que estavam por “dentro” das coisas podem lhe contar em pormenor o porquê das coisas ……………etc, etc.
Dirão que escreve assim, porque não conhece a pessoa; olhe que ele é e sempre foi uma excelente pessoa incapaz de prejudicar alguém.
Por isso é que é tão diferente o que os operacionais passaram daquilo que os “teóricos” falam.
Um abraço
E venha lá essa obra.
José Rui Ferraz
ex-Furriel Miliciano NM 179570/71
da Companhia de Caçadores 4243
Foto: José Rui Ferraz no Aquartelamento de Muidine (Moçambique 1972), e em destaque uma foto sua actual.
quarta-feira, 20 de outubro de 2010
"D Tejo ao Rovuma". História da C.CAÇ. 3309. Moçambique 1971-1973 (Carta a todos os companheiros e amigos)
 Capa e Contra-capa do livro "Do Tejo ao Rovuma. Uma breve pausa num tempo das nossas vidas"
Capa e Contra-capa do livro "Do Tejo ao Rovuma. Uma breve pausa num tempo das nossas vidas".jpg) Carta a todos os companheiros e amigos.
Carta a todos os companheiros e amigos. Clique em cima dos documentos para os visualizar.
Marcadores:
Do Tejo ao Rovuma. História da C.CAÇ. 3309
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
A Opinião, esse direito
O texto transcrito em baixo foi editado a pedido do seu autor, e no âmbito da polémica suscitada a propósito do artigo por mim publicado "Nem sempre fomos bons rapazes" e dos comentários que o mesmo gerou em seu redor.
Importa registar um esclarecimento.
No âmbito da liberdade de expressão e dando espaço à livre produção de opiniões, sejam elas quais forem, todos os textos que me forem solicitados para a sua publicação fá-lo-ei (para além daqueles comentários que são colocados directamente neste espaço) desde que não enveredem pela ofensa primária, pela insinuação maldosa ou juízos de valor apressados e intencionais sobre outras opiniões expressas livremente, mas que contribuam para um salutar debate e um esclarecimento responsável dos temas em discussão, independentemente da opinião de cada um.
Carlos Vardasca
A OPINIÃO, ESSE DIREITO
Muitos de nós, para além do destino comum de termos ido à guerra, o que só por si, é razão suficiente para fazermos parte deste pequeno grupo de fazedores de opinião, não se conhecem, ou então, conhecem-se muito mal.
Entendo no entanto que, todas as opiniões sobre um assunto que nos toca tão profundamente, como será o tema da Guerra Colonial, devem ser dadas sem paixões exacerbadas, pois o que está lá para trás, doeu muito, continua a doer e acompanhar-nos-à até ao fim dos nossos dias.
Creio que, para além de nós, serão poucos os que, hoje, estão receptivos a ouvir falar deste tema, mesmo no seio das nossas famílias.
Há e continuará a haver enorme incompreensão em redor dos nossos sofrimentos.
Só nós somos capazes de nos ouvirmos, uns aos outros.
Divergências, havê-las-à sempre; mas respeitemo-nos.
Para mim, todos fomos bravos.
Sejamo-lo também agora, respeitando-nos e às nossas opiniões.
Companheiros!
A maioria de nós, já são avós. Todos temos histórias para lhes contar sobre este tema, mas … se eles nos quiserem ouvir.
Só nós, e entre nós, temos a garantia de que nos entendemos.
É bom sentir a adrenalina no ar. Mas … saibamos lidar com ela.
O Vardasca tem o mérito enorme de estar a trabalhar para memória futura, ocupando um espaço, que retrata de muito perto, a realidade, o viver de gente que foi empurrada para aquele conflito e que são ao fim e ao cabo, o povo deste país.
A ele o meu bem haja.
Ao companheiro Cordovil, quero dizer-lhe que respeito a sua indignação, compreendo-a, mas, se me permite, não se indigne contra o Vardasca.
Há um local próprio para o fazer. Todos sabemos qual é. Será que a si ou a mim, ou a algum de nós, alguém ouvirá?
Eu li as suas palavras e verifico que é, como eu, um pessoa sofrida.
O Vardasca não tem culpa e não o queria ter diminuído, nem, estou certo, pretendeu escamotear os seus valores e convicções.
Apenas e para finalizar. Sou um de 5 irmãos. Quatro estiveram na guerra do ultramar
Filipe Pinto*
Entendo no entanto que, todas as opiniões sobre um assunto que nos toca tão profundamente, como será o tema da Guerra Colonial, devem ser dadas sem paixões exacerbadas, pois o que está lá para trás, doeu muito, continua a doer e acompanhar-nos-à até ao fim dos nossos dias.
Creio que, para além de nós, serão poucos os que, hoje, estão receptivos a ouvir falar deste tema, mesmo no seio das nossas famílias.
Há e continuará a haver enorme incompreensão em redor dos nossos sofrimentos.
Só nós somos capazes de nos ouvirmos, uns aos outros.
Divergências, havê-las-à sempre; mas respeitemo-nos.
Para mim, todos fomos bravos.
Sejamo-lo também agora, respeitando-nos e às nossas opiniões.
Companheiros!
A maioria de nós, já são avós. Todos temos histórias para lhes contar sobre este tema, mas … se eles nos quiserem ouvir.
Só nós, e entre nós, temos a garantia de que nos entendemos.
É bom sentir a adrenalina no ar. Mas … saibamos lidar com ela.
O Vardasca tem o mérito enorme de estar a trabalhar para memória futura, ocupando um espaço, que retrata de muito perto, a realidade, o viver de gente que foi empurrada para aquele conflito e que são ao fim e ao cabo, o povo deste país.
A ele o meu bem haja.
Ao companheiro Cordovil, quero dizer-lhe que respeito a sua indignação, compreendo-a, mas, se me permite, não se indigne contra o Vardasca.
Há um local próprio para o fazer. Todos sabemos qual é. Será que a si ou a mim, ou a algum de nós, alguém ouvirá?
Eu li as suas palavras e verifico que é, como eu, um pessoa sofrida.
O Vardasca não tem culpa e não o queria ter diminuído, nem, estou certo, pretendeu escamotear os seus valores e convicções.
Apenas e para finalizar. Sou um de 5 irmãos. Quatro estiveram na guerra do ultramar
Filipe Pinto*
06 de Outubro de 2010
*Filipe Manuel Cardão Pinto, ex-Furriel Miliciano NM 14172170 da Companhia de Caçadores 3309, posteriormente destacado para comandar os GEs 212 aquartelados no destacamento de Nhica do Rovuma, no norte de Moçambique, distrito de Cabo Delgado.
Foto: Filipe Pinto (em baixo de frente para a foto) no destacamento do Nhica do Rovuma, assistindo à chegada de uma coluna de reabastecimento (1971). Em destaque uma foto sua actual.
quarta-feira, 6 de outubro de 2010
"Nem sempre fomos bons rapazes" (2)

 Caros amigos
Caros amigosEu quando escrevi o artigo “Nem sempre fomos bons rapazes”, simplesmente me reportava a um determinado contexto, e numa determinada altura em que apareceram alguns oficiais que estiveram na Guerra Colonial a contestar as declarações proferidas pelo escritor António Lobo Antunes, declarações essas que eu próprio também tive oportunidade de contestar. Por outro lado, e se também leram as opiniões daqueles oficiais, é óbvio que também chegaram à conclusão de que a maioria das suas opiniões também não correspondiam à realidade, tendo em conta que, e como eu refiro no meu artigo (e todos nós por uma questão de honestidade intelectual teremos que reconhecer – e penso que alguns já o fizeram) o comportamento da maioria das nossas tropas não foi assim tão exemplar como eles quiseram fazer crer, embora eu compreenda em que contexto se vivia e qual a opinião (que se pode dizer quase generalizada) que a maioria das nossas tropas tinham sobre as populações com quem iam conviver e dos próprios Movimentos de Libertação.
Ao dizer que “Nem Sempre fomos Bons Rapazes”, é óbvio, e a intenção está implícita (Nem Sempre – o que quer dizer que também o fomos) de que os comportamentos por mim descritos não se podiam generalizar (é óbvio que “não nos portámos todos mal”) pois reconheço que apesar de sermos a potência ocupante, alguma coisa de útil fizemos em prol daqueles povos (escolas criadas pelo exército para os miúdos aprenderem as primeiras letras, redes de abastecimento de água às populações e de irrigação das machambas, entre outras muitas coisas que não vale a pena enumerar) e muitos de nós os soubemos respeitar na nossa convivência diária que com eles mantivemos nos diversos aldeamentos por onde passámos.
Se leram bem o referido artigo, nele eu apenas me limito a fazer recordar aos oficiais que tentavam fazer crer nas suas opiniões de que a nossa presença em África foi uma espécie de “missão evangelizadora” (quando todos nós sabemos que não foi bem assim) e de que também houve o outro lado negro da guerra mas que eles fingiam ignorar.
Foi simplesmente isto. No respectivo artigo não falto ao respeito a ninguém, não encontram nenhum adjectivo de traidor que eu tivesse atribuído a quem quer que seja, nem coloquei em causa a tomada de posição daqueles que, estando contra a guerra decidiram desertar, ou de outros que, estando na mesma posição, (foi o meu caso e de muitos) decidiram no entanto participar nela por uma questão de consciência, receio das consequências ou por outras razões que não importa aqui analisar, nem tão pouco sobre aqueles que nela participaram com “espírito de missão”.
É claro! E não o digo no artigo porque se tornava bastante extenso (nem sequer a intenção do artigo era essa mas simplesmente avivar a memória daqueles oficiais que se insurgiram contra António Lobo Antunes) mas é óbvio que reconheço que naquela guerra se cometeram atrocidades em ambas as partes intervenientes no conflito, e que nem o "bem" nem o "mal" se encontravam só de um dos lados da barricada, dado que todos nós conhecemos episódios que atestam a sua veracidade, tanto do nosso lado como da FRELIMO.
Mas isto é uma verdade incontornável. Ignorar estes factos é querer passar uma esponja por cima da história e tentar moldá-la às suas conveniências, distorcendo a realidade.
Colocadas as minhas considerações nos devidos lugares, só não compreendo como é que ainda existem pessoas que, fazendo uma leitura errada (porque lhes convém) da história por eles vivida e do conhecimento que têm dos factos, não queiram assumir os mesmos com a naturalidade que deve ser exigida, sem complexos, e, ao analisarem o artigo “Nem sempre fomos bons rapazes” em vez de fazerem uma análise objectiva dos factos tendo em conta o seu contexto, partem logo apressadamente e de uma forma tão injusta para considerações ideológicas ou insinuações abusivas sobre o seu autor, passando da racionalidade para a provocação (e foi por isso que me insurgi contra elas) que em nada contribui para o salutar debate democrático, que se pretende profícuo e esclarecedor.
Um abraço a todos
Carlos Vardasca
Foto 1: Quando aguardava o helicóptero para ser evacuado para Mueda por ter sido ferido em combate (com um tiro numa mão) na picada entre Palma e Pundanhar. Junto a mim, deitado na berma da picada está um soldado de C.CAÇ. 2703 (estacionada no aquartelamento de Pundanhar e que fazia escolta à coluna de reabastecimento) gravemente ferido nessa emboscada e que igualmente aguarda o momento da evacuação. Moçambique (Cabo Delgado) 03 de Janeiro de 1972
Foto 2: Momento da evacuação. Moçambique (Cabo Delgado) 03 de Janeiro de 1972 (em destaque a minha foto actual)
sexta-feira, 1 de outubro de 2010
39 anos depois do falecimento do "Almada" (1). 02 de Outubro de 1971
 (...) Era um “anfiteatro” ainda em fase de construção, mas a peça que ia ser representada naquele local onde pairava um comprometedor silêncio iria contar com a colaboração de todos, na dupla qualidade de actores e de espectadores, actuando para uma plateia cheia de nada, sem que as palmas entoassem na imensidão do vazio em que todos mergulhavam.
(...) Era um “anfiteatro” ainda em fase de construção, mas a peça que ia ser representada naquele local onde pairava um comprometedor silêncio iria contar com a colaboração de todos, na dupla qualidade de actores e de espectadores, actuando para uma plateia cheia de nada, sem que as palmas entoassem na imensidão do vazio em que todos mergulhavam.Sem distinção das patentes militares, cada um aconchegava-se no seu canto à espera do início da representação teatral, já que os camarotes tinham sido ocupados pelas árvores que circundavam o “anfiteatro” e pelo final do dia que se ia acomodando em lugar privilegiado.
Ainda o pano do palco não começara a subir e em cada um nos seus lugares já se sentia uma certa incomodidade pela sua demora, estranhando que as “pancadas de Molière” ainda não se fizessem ouvir. Tal era a ânsia (que passeava de braço dado com a inquietação) pelo levantar do pano, que fazia com que a maioria dos presentes no local da representação não reparassem nos sinais luminosos que se cruzavam por cima, nos céus, dando-lhe um outro colorido, cujo brilho era bastante estranho quando misturado com o salpicado brilhante das estrelas que começavam a tilintar.
Aqueles sinais luminosos decerto que tinham alguma tradução e, para alguém mais atento, faziam lembrar os sinais de fumo das tribos Índias que daquela forma organizavam o ataque aos invasores das suas pradarias e das suas reservas de caça.
- Estamos bem tramados, aqueles sinais cheiram-me a esturro:
- Tenho cá uma fézada que neste final de tarde vamos ter porrada e da forte - disse o “Almada” com aquela voz rouca que o caracterizava, correndo em passo apressado a alertar todo o pessoal que se encontrava nos postos de vigia, certificando-se aí que também eles tinham visto os very-light´s[1], assim como todo o pessoal que se encontrava nas tendas e o próprio capitão Hélio Moreira, que ainda andava a caldear a cerveja que tinha emborcado durante toda a tarde.
- Companheiros, temos que nos por a pau porque todos estes very-light´s que se têm cruzado por cima do nosso aquartelamento são sinais de mau agoiro.
- Está-se mesmo a ver que os “turras” nos vêm atacar! - acrescentou o “Cascais” prosseguindo com seu raciocínio:
- Esta área do aquartelamento era uma base deles e, para além do orgulho de quererem defender um território que consideravam como seu, conhecem esta zona de cor e salteada e, por estar bem identificada nos seus mapas não lhes vai ser difícil acertarem bem a pontaria, e a morteirada cair toda aqui dentro de Tartibo, com a agravante de saberem que só em poucas horas era muito difícil termos todos os abrigos construídos:
- Vai ser bonito vai! - concluiu preocupado o furriel Garcia.
Sem que se tivessem ouvido as “Pancadas de Molière” ou desse tempo para que as luzes do “anfiteatro” se apagassem, continuando a lua cheia a clarear todo o aquartelamento de Tartibo que mais se assemelhava a um amontoado de destroços, o ataque, que era mais que previsível mas que apanhou quase toda a guarnição desprevenida, iniciou-se com uma ferocidade inexcedível provocando um verdadeiro horror inesquecível em todos os presentes.
Eram cerca de 17 horas e 45 minutos quando o primeiro ataque de um conjunto de quatro, intercalados por períodos de cerca de quinze a vinte minutos se desencadeou, com uma precisão que revelava a sua longa experiência neste tipo de ataques e um verdadeiro conhecimento das regras do cálculo e das distâncias. A FRELIMO flagelou o aquartelamento de várias direcções, desencadeando este ataque de uma forma tão brutal que parecia querer desalojar a 3309 da área que já fora o seu reduto, fazendo com que quase todas as quinze granadas de morteiro de 82mm caíssem dentro do perímetro defensivo, bem no centro do aquartelamento. Na tenda onde dormia o 3º Grupo de Combate que tentava descansar de uma longa permanência no mato em patrulha, todos foram acordados por um forte rebentamento de uma granada de morteiro 82mm, cujos estilhaços esfarraparam a lona e a parede de zinco de outra caserna, gerando o pânico entre os soldados.
- Morteirada... morteirada... abriguem-se! os cabrões dos “turras” estão mesmo a acertar em cheio — alertava o “Almada” que avisava o Serrinha que estava em cima de uma árvore a montar uma antena de rádio.
- Oh meu Deus, é desta que ficamos aqui todos! - dizia o Serrinha enquanto já corria na direcção das valas que davam acesso a um dos abrigos improvisados mas sem o mínimo de segurança, onde já se refugiavam alguns soldados, ao mesmo tempo que concluía o seu protesto:
- Esta merda não tem jeito nenhum de quartel, até parece que nos enviaram para aqui para se livrarem de nós e para morrermos todos.
O rosto dos soldados demonstravam uma forte inquietação que os fazia olhar, constantemente, para fora da zona defensiva e para o descampado da área desmatada que findava no início do denso arvoredo. O arame farpado ainda não tinha sido armado em redor de todo o perímetro do aquartelamento, o que podia facilitar a entrada dos guerrilheiros envolvidos naquela operação caso decidissem retomar Tartibo naquela noite.
No posto de rádio o “Pilhas Secas” comunicava para Nangade em altos berros o intenso ataque de que estava a ser alvo a 3309 em Tartibo, pedindo desesperadamente o apoio da aviação para bombardear a zona e afugentar os atacantes.
Em resposta, recebia a indicação de que Tartibo devia resistir até às últimas consequências, lembrando que o apoio da aviação não podia ser efectuado devido ao adiantado da hora da noite que já se abatia sobre o aquartelamento, o que iria dificultar as manobras do bombardeiro T6 que esteve prestes a ser enviado para o local, mas tão depressa recusado o seu envolvimento naquela operação, devido à inexistência de um ponto de referência que localizasse a área a bombardear por o aquartelamento ser de localização recente e ainda não haver mapas cartográficos que identificassem com exactidão as suas coordenadas.
Do lado norte, bem próximo da extensa área descampada em redor do aquartelamento, o matraquear das Kalashnikov zumbiam por cima dos montes de areia de protecção que rodeavam aquele inferno, o que denotava da parte da FRELIMO o propósito de desencadear uma operação de grande envergadura e com uma forte predisposição dos meios envolvidos que pareciam determinados em tomar de assalto Tartibo naquela mesma noite.
Em Nangade, junto do posto de transmissões, assistindo a todo aquele desespero via rádio, o Braz, o Nabais e o Almeida não abandonavam o posto de rádio para acompanhar o desenrolar dos acontecimentos em Tartibo, apercebendo-se, pela forma como as notícias estavam a ser transmitidas, de todo o drama porque estavam a passar os seus companheiros ali destacados a avaliar pelas explosões consecutivas que se ouviam ao longe.
- Porque é que aqueles “Chicos” d´um cabrão não enviam um Fiat[2] e bombardeiam em redor de toda a zona e desbaratam aqueles filhos da puta? - disse bastante indignado o Almeida.
- Então não vês que ainda não existem mapas da localização correcta de Tartibo e, ao bombardearem a zona podiam falhar o alvo e matarem um monte de soldados nossos! - retorquiu o Nabais.
- Mas, mesmo não bombardeando, sempre mais valia a pena enviar um Fiat porque sempre metia mais respeito, do que enviarem aquele calhambeque do T6 que pensaram em enviar; daqueles que estão a cair aos bocados e que os americanos nos impingiram porque já eram do tempo da guerra da Coreia - ripostou o Almeida bastante irritado, o que lhe dava uma tez avermelhada que bem espelhava a sua indignação que lhe fazia sobressair as veias mais salientes do pescoço.
Entretanto o ataque da FRELIMO continuava ainda com alguma intensidade sem que o capitão Hélio se apercebesse da verdadeira envergadura do mesmo, caminhando com um andar desarticulado, subindo para cima dos pequenos morros de areia escavada dos buracos dos abrigos, tocando um clarim meio enferrujado dando ordens tão esquisitas que só poderiam vir das profundezas do seu cérebro alcoolizado:
- “...Vamos embora cavalaria!, ao ataque meus bravos...”
- “...Nós, os caras pálidas não nos deixamos vencer por meia dúzia de peles negras que não têm a coragem de sair da merda daquele mato e nos virem enfrentar de corpo a corpo...”
As notas que conseguia soprar daquele clarim; a que alguém já dissera ser um crime chamar notas de música, soavam a desespero e a uma certa incapacidade para comandar quem quer que fosse naquele momento, e não conseguiam abafar o desespero do alferes “Checa”[3] que chorava, chamando insistentemente pela mãe que naquele preciso momento não o poderia socorrer.
- Mãezinha... oh minha querida mãezinha...
- Leva-me daqui... eu ainda morro aqui sem ter feito mal a ninguém - enquanto corria desnorteado à procura de um local seguro, chorando copiosamente como se fosse um miúdo perdido num jardim à procura dos pais, revelando uma outra personalidade muito mais fragilizada, diferente da posição austera que sempre exibia em silêncio e que mantinha à distância qualquer tentativa de aproximação. Na trincheira ao lado onde vários soldados se protegiam do fogo de morteiro, ouviu-se uma voz que bradava contra o comportamento do oficial:
- Eh meu alferes, não pode estar caladinho um minuto em vez de estar aí feito cagarolas ?
O barulho era ensurdecedor. O estampido dos rebentamentos das granadas de morteiro 82mm que iam caindo dentro do aquartelamento, misturavam-se com a resposta dada pelos tiros do canhão sem recuo e do Obus14 que faziam fogo intenso sobre a mata circundante, tentando desarticular a frente de ataque dos guerrilheiros que, “num jogo onde as cartas do baralho pareciam ter sido baralhadas de forma a que os trunfos fossem distribuídos em desigualdade por todos os jogadores” sem que, apesar do cansaço, o “jogo não parecesse ter fim à vista ou o seu empenho diminuído de intensidade”.
O pó que se levantou, o fumo dos rebentamentos e o cheiro a pólvora era de uma intensidade e de tal maneira espesso que por pouco não encobria a lua, que assistia, a cerca de trezentos e sessenta e quatro mil quilómetros de distância, do alto do seu pedestal, àquela cena que se desenrolava ali naquele “anfiteatro”, limitando-se a fornecer a claridade para que os exércitos em confronto não perdessem os limites da racionalidade, e decidissem a seu tempo terminar com aquela brutalidade que durava aproximadamente à cinquenta minutos, que só parecia ter sentido para quem bem longe dali mexia os cordelinhos dos jogos de influência; “qual boneco articulado que só obedece à movimentação dos dedos de quem lhe empresta uma vida provisória”, enquanto alguém agonizava bem no fundo de um dos buracos onde era suposto estar ali construído um abrigo.
Inesperadamente, e sem qualquer explicação, talvez porque alguém reconhecesse que aquela brutalidade se tratava de um momentâneo lapso da razão, fez-se de repente um silêncio de ambos os lados das barricadas, que todos tentavam adivinhar ser deveras comprometedor devido às várias interrupções que ocorreram durante aquele ataque.
Já com o aquartelamento inundado na escuridão, irreconhecíveis, de olhos fixos nas silhuetas que se assemelhavam a vagabundos que vagueiam por entre os escombros de uma derrocada, todos se olhavam mutuamente sem compreenderem aquele silêncio repentino.
Ao longe, correndo por entre a escuridão e um amontoado de cunhetos de munições e de cápsulas de Obus dos disparos efectuados, uma silhueta transportava aos ombros um soldado gravemente ferido para o posto de socorros improvisado, enquanto outros já procediam de imediato ao levantamento dos estragos e à avaliação da situação no terreno pensando que a FRELIMO tinha findado a sua onda de ataques.
- É pá, quem é o gajo que levas aí aos ombros? - disse o Furriel Gonçalves do fundo do seu posto de morteiro 81mm.
- É o “Almada” - caiu-lhe uma granada de morteiro dentro da vala onde se protegia e está todo ensanguentado e penso que gravemente ferido - respondeu o 1º Cabo Gonçalves que abandonara aquele posto de municiador de morteiro para socorrer o companheiro, aproveitando aquela pequena trégua nos combates — continuando a falar mas a correr de uma forma aflitiva em direcção à tenda do posto de enfermagem:
— Quando lá chegámos à vala onde ele foi ferido, já o Moreirinha do 3º pelotão estava de posse dele, e até lhe arrancou o resto da granada que se lhe espetou no peito.
— Nem sei como aquele gajo arranjou tanta coragem:
— Dos que estávamos lá, nem um se atreveu a fazê-lo — concluiu o Gonçalves.
Pelas dezoito horas e trinta minutos desencadeia-se um novo ataque, o quarto naquele espaço de tempo que pareceu uma eternidade, com as quinze granadas disparadas da direcção Leste do aquartelamento a caírem próximo de tendas de lona e bidons de combustível.
Terminado o ataque ao cabo de cerca de 55 minutos, os oficiais responsáveis por cada pelotão tentavam agrupar os seus homens para se certificarem da existência de alguma baixa quando uma falta foi detectada num dos pelotões.
- O “Almada” ? — perguntou o alferes do 1º pelotão franzindo a testa.
- A última vez que o vi ele corria na direcção daquela vala, que só tem os troncos de árvore assentes e sem a protecção das placas de zinco e areia por cima, - disse o soldado Vieira que correu na direcção do local indicado, levando as mãos à cabeça num acto de desespero, quando olhou para o fundo do abrigo e apenas viu a terra ensanguentada.
De pequena estatura, aquele corpo que parecia uma criança aconchegada no colo materno, agonizava já na maca numa velha tenda que fazia de posto de socorros improvisado, inglório, enquanto lhe eram prestados os primeiros socorros e a assistência possível em face da gravidade dos ferimentos, enquanto via rádio era pedido um helicóptero para a sua evacuação para o hospital de Mueda, que não pode ser possível naquele dia devido ao adiantado da hora. Os restos da granada de morteiro 82mm permaneciam também eles ensanguentados no fundo do abrigo, como que a certificarem-se de que tinham cumprido a sua missão, podendo, agora, já mais descansados, virar material de sucata ou esperar pela reciclagem que lhes voltasse a dar outra forma e nova configuração.
A vala onde o “Almada” se refugiara fora atingida por uma granada de morteiro 82mm logo no primeiro desta sucessão de quatro ataques, ferindo-o gravemente.
Dentro do posto de socorros, os estrondos ensurdecedores dos rebentamentos que continuavam a flagelar o aquartelamento, do disparar das armas automáticas e dos obuses que disparavam na direcção de onde se ouviam as “saídas” das granadas de morteiro disparadas pela da FRELIMO, não conseguiam abafar os apelos do “Almada” que implorava, enroscado sobre si como uma criança, o seu direito à sobrevivência enquanto se esvaia em sangue e desfalecia, apesar de o enfermeiro Cardoso o tentar reanimar com respiração boca a boca durante toda a noite, pressentindo que as suas férias estariam cada vez mais distantes e que inesperadamente o levariam a adormecer num lugar distante.
No dia seguinte logo pela madrugada, transportado na maca a caminho do helicóptero de evacuação, aquela voz rouca ainda foi enjeitando alguns suaves protestos que contrariavam o catecismo decorado na infância e onde lhe fora ensinado que “...Deus estaria sempre do lado de quem reza e contra os infiéis…”
Já dentro do helicóptero e antes que a sua voz rouca se silenciasse (apesar dos esforços de toda a equipa de enfermeiros que não o abandonaram durante toda a noite, estancando-lhe os golpes da granada de morteiro que lhe esventraram o corpo e lhe ensanguentaram o camuflado), o “Almada”, com a rouquidão cada vez mais ténue, que ainda deixava transparecer um ligeiro sopro dos seus lábios baços, já sem esperanças de compreender porque fora apanhado do lado errado daquele conflito, lentamente, foi desvanecendo, mas ainda com forças para soletrar um breve e último protesto que aos presentes suou inundado de inocência:
- “ … será que Deus ainda não entendeu que é do nosso lado que se reza …”?
- “Então… porque é que hoje… ele esteve… do lado dos maus”?
Enquanto o helicóptero de evacuação levantava voo, as suas hélices faziam um redemoinho de poeira avermelhada que encardia toda a tristeza e os lenços que se agitavam em sinal de despedida do “Almada”, o Obus 14 e as G3 disparavam, chorando lágrimas de fogo sem destino mas em jeito de salva em sua homenagem, soletrando, através das rajadas uma angústia bem expressa nos rostos escurecidos e cansados de tanta raiva amordaçada, ali bem longe, junto à fronteira com a Tanzânia nas margens do rio Rovuma, no final das escarpas do Planalto dos Macondes bem no âmago dos “subúrbios do céu”, onde a guerra calava mais fundo.
O cenário dramático voltava a repetir-se na história da Companhia de Caçadores 3309.
O “Almada” ou mais propriamente o Pedro Manuel Gaspar Augusto também estava prestes a ir passar férias à Metrópole e viu o seu sonho drasticamente interrompido.
Sobrevoando já por cima das árvores, o helicóptero ainda fez um voo rasante sobre o aquartelamento como que agradecendo aos lenços que ainda se agitavam e às rajadas de metralhadora que soavam carregadas de emoção e protesto, para que o seu som fosse levado pelo vento e fizesse soprar uma brisa de revolta nas secretarias da nomenclatura do exército e penetrasse bem fundo nas catacumbas do regime.
O “Almada” viria a falecer nesse mesmo dia, 2 de Outubro de 1971, ido de Mueda a caminho do Hospital Militar de Lourenço Marques (...)
- Eh meu alferes, não pode estar caladinho um minuto em vez de estar aí feito cagarolas ?
O barulho era ensurdecedor. O estampido dos rebentamentos das granadas de morteiro 82mm que iam caindo dentro do aquartelamento, misturavam-se com a resposta dada pelos tiros do canhão sem recuo e do Obus14 que faziam fogo intenso sobre a mata circundante, tentando desarticular a frente de ataque dos guerrilheiros que, “num jogo onde as cartas do baralho pareciam ter sido baralhadas de forma a que os trunfos fossem distribuídos em desigualdade por todos os jogadores” sem que, apesar do cansaço, o “jogo não parecesse ter fim à vista ou o seu empenho diminuído de intensidade”.
O pó que se levantou, o fumo dos rebentamentos e o cheiro a pólvora era de uma intensidade e de tal maneira espesso que por pouco não encobria a lua, que assistia, a cerca de trezentos e sessenta e quatro mil quilómetros de distância, do alto do seu pedestal, àquela cena que se desenrolava ali naquele “anfiteatro”, limitando-se a fornecer a claridade para que os exércitos em confronto não perdessem os limites da racionalidade, e decidissem a seu tempo terminar com aquela brutalidade que durava aproximadamente à cinquenta minutos, que só parecia ter sentido para quem bem longe dali mexia os cordelinhos dos jogos de influência; “qual boneco articulado que só obedece à movimentação dos dedos de quem lhe empresta uma vida provisória”, enquanto alguém agonizava bem no fundo de um dos buracos onde era suposto estar ali construído um abrigo.
Inesperadamente, e sem qualquer explicação, talvez porque alguém reconhecesse que aquela brutalidade se tratava de um momentâneo lapso da razão, fez-se de repente um silêncio de ambos os lados das barricadas, que todos tentavam adivinhar ser deveras comprometedor devido às várias interrupções que ocorreram durante aquele ataque.
Já com o aquartelamento inundado na escuridão, irreconhecíveis, de olhos fixos nas silhuetas que se assemelhavam a vagabundos que vagueiam por entre os escombros de uma derrocada, todos se olhavam mutuamente sem compreenderem aquele silêncio repentino.
Ao longe, correndo por entre a escuridão e um amontoado de cunhetos de munições e de cápsulas de Obus dos disparos efectuados, uma silhueta transportava aos ombros um soldado gravemente ferido para o posto de socorros improvisado, enquanto outros já procediam de imediato ao levantamento dos estragos e à avaliação da situação no terreno pensando que a FRELIMO tinha findado a sua onda de ataques.
- É pá, quem é o gajo que levas aí aos ombros? - disse o Furriel Gonçalves do fundo do seu posto de morteiro 81mm.
- É o “Almada” - caiu-lhe uma granada de morteiro dentro da vala onde se protegia e está todo ensanguentado e penso que gravemente ferido - respondeu o 1º Cabo Gonçalves que abandonara aquele posto de municiador de morteiro para socorrer o companheiro, aproveitando aquela pequena trégua nos combates — continuando a falar mas a correr de uma forma aflitiva em direcção à tenda do posto de enfermagem:
— Quando lá chegámos à vala onde ele foi ferido, já o Moreirinha do 3º pelotão estava de posse dele, e até lhe arrancou o resto da granada que se lhe espetou no peito.
— Nem sei como aquele gajo arranjou tanta coragem:
— Dos que estávamos lá, nem um se atreveu a fazê-lo — concluiu o Gonçalves.
Pelas dezoito horas e trinta minutos desencadeia-se um novo ataque, o quarto naquele espaço de tempo que pareceu uma eternidade, com as quinze granadas disparadas da direcção Leste do aquartelamento a caírem próximo de tendas de lona e bidons de combustível.
Terminado o ataque ao cabo de cerca de 55 minutos, os oficiais responsáveis por cada pelotão tentavam agrupar os seus homens para se certificarem da existência de alguma baixa quando uma falta foi detectada num dos pelotões.
- O “Almada” ? — perguntou o alferes do 1º pelotão franzindo a testa.
- A última vez que o vi ele corria na direcção daquela vala, que só tem os troncos de árvore assentes e sem a protecção das placas de zinco e areia por cima, - disse o soldado Vieira que correu na direcção do local indicado, levando as mãos à cabeça num acto de desespero, quando olhou para o fundo do abrigo e apenas viu a terra ensanguentada.
De pequena estatura, aquele corpo que parecia uma criança aconchegada no colo materno, agonizava já na maca numa velha tenda que fazia de posto de socorros improvisado, inglório, enquanto lhe eram prestados os primeiros socorros e a assistência possível em face da gravidade dos ferimentos, enquanto via rádio era pedido um helicóptero para a sua evacuação para o hospital de Mueda, que não pode ser possível naquele dia devido ao adiantado da hora. Os restos da granada de morteiro 82mm permaneciam também eles ensanguentados no fundo do abrigo, como que a certificarem-se de que tinham cumprido a sua missão, podendo, agora, já mais descansados, virar material de sucata ou esperar pela reciclagem que lhes voltasse a dar outra forma e nova configuração.
A vala onde o “Almada” se refugiara fora atingida por uma granada de morteiro 82mm logo no primeiro desta sucessão de quatro ataques, ferindo-o gravemente.
Dentro do posto de socorros, os estrondos ensurdecedores dos rebentamentos que continuavam a flagelar o aquartelamento, do disparar das armas automáticas e dos obuses que disparavam na direcção de onde se ouviam as “saídas” das granadas de morteiro disparadas pela da FRELIMO, não conseguiam abafar os apelos do “Almada” que implorava, enroscado sobre si como uma criança, o seu direito à sobrevivência enquanto se esvaia em sangue e desfalecia, apesar de o enfermeiro Cardoso o tentar reanimar com respiração boca a boca durante toda a noite, pressentindo que as suas férias estariam cada vez mais distantes e que inesperadamente o levariam a adormecer num lugar distante.
No dia seguinte logo pela madrugada, transportado na maca a caminho do helicóptero de evacuação, aquela voz rouca ainda foi enjeitando alguns suaves protestos que contrariavam o catecismo decorado na infância e onde lhe fora ensinado que “...Deus estaria sempre do lado de quem reza e contra os infiéis…”
Já dentro do helicóptero e antes que a sua voz rouca se silenciasse (apesar dos esforços de toda a equipa de enfermeiros que não o abandonaram durante toda a noite, estancando-lhe os golpes da granada de morteiro que lhe esventraram o corpo e lhe ensanguentaram o camuflado), o “Almada”, com a rouquidão cada vez mais ténue, que ainda deixava transparecer um ligeiro sopro dos seus lábios baços, já sem esperanças de compreender porque fora apanhado do lado errado daquele conflito, lentamente, foi desvanecendo, mas ainda com forças para soletrar um breve e último protesto que aos presentes suou inundado de inocência:
- “ … será que Deus ainda não entendeu que é do nosso lado que se reza …”?
- “Então… porque é que hoje… ele esteve… do lado dos maus”?
Enquanto o helicóptero de evacuação levantava voo, as suas hélices faziam um redemoinho de poeira avermelhada que encardia toda a tristeza e os lenços que se agitavam em sinal de despedida do “Almada”, o Obus 14 e as G3 disparavam, chorando lágrimas de fogo sem destino mas em jeito de salva em sua homenagem, soletrando, através das rajadas uma angústia bem expressa nos rostos escurecidos e cansados de tanta raiva amordaçada, ali bem longe, junto à fronteira com a Tanzânia nas margens do rio Rovuma, no final das escarpas do Planalto dos Macondes bem no âmago dos “subúrbios do céu”, onde a guerra calava mais fundo.
O cenário dramático voltava a repetir-se na história da Companhia de Caçadores 3309.
O “Almada” ou mais propriamente o Pedro Manuel Gaspar Augusto também estava prestes a ir passar férias à Metrópole e viu o seu sonho drasticamente interrompido.
Sobrevoando já por cima das árvores, o helicóptero ainda fez um voo rasante sobre o aquartelamento como que agradecendo aos lenços que ainda se agitavam e às rajadas de metralhadora que soavam carregadas de emoção e protesto, para que o seu som fosse levado pelo vento e fizesse soprar uma brisa de revolta nas secretarias da nomenclatura do exército e penetrasse bem fundo nas catacumbas do regime.
O “Almada” viria a falecer nesse mesmo dia, 2 de Outubro de 1971, ido de Mueda a caminho do Hospital Militar de Lourenço Marques (...)
[1] Foguetes de iluminação utilizados para localizar um local.
[2] Jacto da Força Aérea Portuguesa.
[3] Alcunha do Alferes Mendes por ter sido o último a incorporar a Companhia de Caçadores 3309 em Moçambique.
In: "Fardados de Lama" (Romance) da Página 179 a 188. Carlos Vardasca. Alhos Vedros 2009.
Foto 1: O "Almada" (o primeiro a contar do lado esquerdo) no Aquartelamento de Pundanhar na companhia de soldados da Companhia de Caçadores 2703 ali estacionados e do Serrinha (o primeiro a contar do lado direito) da Companhia de Caçadores 3309.
Foto 2: O "Almada" (ao centro) no Aquartelamento de Nova Torres (Tartibo) na companhia de um Grupo de Combate de GEs.
(4) "Almada". Alcunha do 1º Cabo Atirador Pedro Manuel Gaspar Augusto. 1º Cabo Atirador NM 13619570 da Companhia de Caçadores 3309, falecido em combate em 02 de Outubro de 1971, em virtude do ataque da FRELIMO ao Aquartelamento de Tartibo no dia 01 de Outubro de 1971.
sexta-feira, 17 de setembro de 2010
"Nem sempre fomos bons rapazes"
 Tenho acompanhado de perto a polémica à volta das declarações um pouco infelizes do escritor António Lobo Antunes, sobre o comportamento das nossas tropas em teatro de guerra que não subscrevo na sua totalidade, mesmo que tivessem sido produzidas no âmbito ficcional.
Tenho acompanhado de perto a polémica à volta das declarações um pouco infelizes do escritor António Lobo Antunes, sobre o comportamento das nossas tropas em teatro de guerra que não subscrevo na sua totalidade, mesmo que tivessem sido produzidas no âmbito ficcional.Algumas daquelas declarações poderão não ser totalmente verdade mas evidenciam e contêm um pouco da realidade e do ambiente que se vivia no período colonial, não só nas cidades mas também nos locais mais recônditos onde as nossas tropas estavam aquarteladas.
No momento mais “escaldante” desta controvérsia, apenas fui observando as diversas manifestações vindas das mais variadíssimas proveniências, mantendo-me à distância das mesmas para as poder analisar à luz da minha experiência também como ex-combatente da Guerra Colonial, mais concretamente nos Aquartelamentos de Nangade, Tartibo, Pundanhar, Muidine e Palma, todos em Cabo Delgado, norte de Moçambique, nas margens do rio Rovuma junto da fronteira com a Tanzânia.
Tal como as declarações proferidas por aquele escritor, confesso que também fiquei bastante impressionado e estranhei a forma como alguns ex-combatentes reagiram às mesmas, com declarações pinceladas de um “patriotismo balofo”, como se ignorassem ou fingissem ter esquecido o comportamento da maioria dos nossos soldados para com as populações nativas durante o conflito colonial.
A descrição feita por António Lobo Antunes sobre o comportamento das nossas tropas pode não corresponder totalmente à realidade, mas “que nem sempre fomos bons rapazes” é uma verdade inquestionável que nenhum ex-combatente ousa desmentir, mesmo que isso ainda hoje lhe corroa a consciência.
A grande maioria das nossas tropas (e não faz mal nenhum reconhecer este facto) era oriunda dos meios rurais, de fraca escolaridade, incultas, “embrutecidas” pelos discursos e as ladainhas dos párocos da aldeia, sendo educados desde tenra idade com uma visão da guerra colonial decalcada dos catecismos do regime.
Chegados a África, confrontados com uma população que o regime lhes disse ser inferior e os seus guerrilheiros classificados como terroristas, era natural ver os nossos soldados no seu relacionamento com as populações a exibirem a sua pose de superioridade, mesmo que vinda de um simples trabalhador rural ou de um daqueles emigrantes que na procura de uma vida melhor vegetou nos bidon-vile’s em terras de França e que, sem qualquer superioridade moral para humilhar aqueles povos de cor de pele diferente, os tratavam com alguma arrogância, indiferença ou desprezo, como se fossem seres inferiores.
Embora houvesse excepções (talvez uma minoria pouco expressiva com alguma consciência política) fazer crer que “fomos todos bons rapazes” durante os 14 anos que durou o conflito colonial, é uma outra mentira que nenhum de nós que o viveu de perto e tenha consciência da realidade, acredita, apesar das Políticas de Acção Psico-Social desenvolvidas já no final do conflito e que tinham um objectivo político bem definido e internacionalmente bem encenado.
Tal como as “Cruzadas” ou as “Descobertas”, que não foram nenhuns “passeios evangelizadores” mas invasões férteis em massacres para submeter os ditos povos “infiéis”, a Guerra Colonial também foi palco de comportamentos menos dignos por parte de algumas das nossas tropas, que na convivência diária com aqueles povos colonizados se utilizaram da falsa “superioridade da raça branca” para lhes impor (mesmo que em situações menores do seu dia a dia) a submissão, a humilhação, o roubo e o massacre indiscriminado de populações indefesas nos ataques às bases da FRELIMO, ou a prisão indiscriminada de elementos das populações nos vários aldeamentos (sempre coordenados por agentes da PIDE) a pretexto de colaborarem com os movimentos de libertação.
Para termos a noção de uma realidade que alguns fingem esquecer, quem não se recorda das várias incursões efectuadas de noite aos aldeamentos (que não eram mais do que meros campos de concentração onde o exército português acantonava as populações retiradas das matas para impedir que estas apoiassem a FRELIMO) para se roubarem galinhas ou cabritos para tornar o rancho bem mais melhorado, sob o protesto das populações, que tinham que se submeter perante a exibição bélica dos militares?
Será que todos nós já estamos esquecidos da humilhação a que submetíamos os nossos Mainatos[1] que na hora da refeição nos fixavam de olhar faminto, na esperança de que sobrasse algum alimento dos nossos pratos, esperança essa frustrada, quando alguém atirava o prato já vazio na sua direcção, dizendo:
― Vá lá Turra[2] d’um cabrão, o que é que estás à espera para ires lavar essa merda? Ou atirar uma lata de atum já vazia para o meio de um amontoado de crianças que, não sabendo estar a ser enganadas, se guerreavam na ânsia de ali encontrar algo para saciar a fome, enquanto os soldados se pavoneavam rindo à gargalhada perante aquele espectáculo degradante.
Quantas vezes o salário destes Mainatos não foi pago (e isto acontecia com bastante frequência) a pretexto de que a roupa não foi bem lavada e no tempo exigido, ou devido à ausência de um botão (que era arrancado intencionalmente na véspera) para justificar a recusa do pagamento daquele salário.
Quantas mulheres não foram violadas nos aldeamentos com o cano da G3 apontada à cabeça, enquanto outros soldados consumavam a violação colectiva?
Quantos guerrilheiros da FRELIMO depois de aprisionados após terem efectuado uma emboscada às nossas tropas, não foram brutalmente mortos mesmo ali na mata, num acto de desespero e de vingança por um dos nossos camaradas ter falecido nesse confronto?
Quantas crianças indefesas não foram abatidas a sangue frio nos ataques das nossas tropas às bases da FRELIMO, só porque aquelas (ao serem levadas como prisioneiras) seriam um empecilho à progressão e concretização da operação em curso?
Quem não se recorda de ouvir dizer que os guerrilheiros da FRELIMO capturados na mata, eram metidos nos helicópteros (supostamente para serem enviados para as prisões no sul de Moçambique) mas que a PIDE, em pleno oceano Índico, os atirava borda fora com as mãos e os pés atados, sob o olhar incrédulo e de reprovação dos pilotos, enquanto os Pides se justificavam:
― A porta abriu-se e o filho da puta do “Turra” caiu ao mar.
Quantos de nós (influenciados pela propaganda do regime) passámos a admirar a figura do Mercenário Daniel Roxo alcunhando-o de “O terror dos Turras” e, inspirados nas suas façanhas ditas heróicas, nos tornámos (à sua semelhança) mais “guerrilheiros”, apesar de sabermos (e até achávamos isso normal) que as suas milícias utilizavam requintes de malvadez nos métodos de tortura (proibidos pela Convenção de Genebra) sobre os guerrilheiros da FRELIMO capturados, serviços aliás, que, com o fim da Guerra Colonial (como Mercenário que era e a soldo de quem lhe pagasse melhor) os colocou à disposição do regime da África do Sul no tempo do Apartheid na sua ofensiva contra Angola, onde veio a falecer.
Enfim! E como todos nós ainda estamos lembrados, as humilhações com o objectivo de diminuir e enxovalhar socialmente o próximo não eram somente dirigidas às populações nativas pelos soldados dos ramos das forças armadas que conviviam mais próximo das populações, mas também, (por incompreensível que pareça) era prática corrente também entre as nossas tropas devido à rivalidade (fomentada pelo regime) existente entre as ditas “tropas especiais”[3] e as ditas “tropas normais”[4], chamando aquelas a estas (naquela sua vaidosa pose sempre arrogante e excessivamente militarista) de “tropa macaca”.
Apesar de serem alvo daquele adjectivo depreciativo com o objectivo nítido de as humilhar, era no entanto a “tropa macaca” que sempre no mato passava os maiores sofrimentos com os ataques constantes dos guerrilheiros aos seus aquartelamentos, que convivia diariamente com o rebentamento de minas anti-carro e com as emboscadas durante os patrulhamentos e as colunas de reabastecimento nas picadas, com as consequências bem dramáticas que resultavam desse confronto constante e diário.
As ditas “tropas especiais” (que numa vaidade extrema tinham logo como imediata preocupação ajustar a sua farda ao corpo para, por um lado, exibirem a sua pose atlética mas também (e isso era uma preocupação constante) para se distinguirem da tal “tropa macaca”), eram tropas que regra geral estavam aquarteladas nas cidades (Porto Amélia, Nampula, Montepuez e Beira) num relativo conforto (se comparado com as restantes tropas que passavam todo o seu tempo no mato) eram melhor alimentadas e mais bem pagas.
Quando iam para o mato (depois de alguns meses de descanso a que as outras tropas não tinham direito) e eram enviadas em operações, nalgumas destas nem sequer tinham contacto com os guerrilheiros da FRELIMO, dado que estes, depois de terem massacrado as tropas “ditas normais” durante todo o ano, abandonavam as pequenas bases no interior de Moçambique e se refugiavam na Tanzânia, logo que sabiam da intervenção na sua zona daquelas tropas “ditas especiais”.
Depois de concluída a operação, aquelas tropas voltavam de novo para a cidade para mais um período de “merecido descanso” (enquanto a dita “tropa macaca” continuava “encafuada” nos mais recônditos aquartelamentos durante toda a comissão) onde aproveitavam para contar histórias rocambolescas para evidenciar o seu heroísmo e alimentar a sua vaidade, quando nem sequer em algumas destas operações alguns deles tiveram qualquer contacto com o inimigo.
Para além destas questões aparentemente menores mas que revelam bem o comportamento chauvinista da maioria dos nossos soldados no período colonial (sejam eles de que ramo fossem) será bom não esquecermos (no caso de Moçambique) os massacres de Wiryamu em 16 de Dezembro de 1972, onde foram mortas indiscriminadamente 400 pessoas entre mulheres e crianças sendo este acto condenado a nível internacional. Dos massacres de Inhaminga efectuados pelas nossas tropas em Agosto de 1973 e Março de 1974 e dos massacres de Mucumbura, para de facto reconhecermos “que nem sempre fomos bons rapazes” no nosso relacionamento com os povos que colonizámos, como querem fazer crer alguns ex-combatentes com o objectivo de branquear a história, como se a nossa presença em África tivesse sido uma “missão evangelizadora”, só porque ficaram embevecidos com as Acções Psico-Sociais levadas a cabo já no final do conflito colonial, acções estas que tinham um único objectivo; cativar as populações com a construção de aldeamentos e a oferta de outras benesses que não passavam de meras “bugigangas”, e afastá-las do apoio à FRELIMO.
É certo que estávamos em guerra, e no meio da emoção e do ambiente dramático que muitos de nós vivíamos (longe da família), sempre na incerteza do dia seguinte, reconheço que muita coisa (consciente ou inconscientemente e de que muitos de nós estaremos hoje arrependidos de o ter feito) foi feita debaixo da angústia e da raiva por ver um ou mais companheiros nossos tombados em combate, ou devido ao isolamento a que muitas tropas foram sujeitas em Aquartelamentos sem o mínimo de condições de habitabilidade, mas também às perturbações emocionais de que muitos soldados foram vítimas por terem estado durante muito tempo sujeitos a intensos combates que lhes abalou a racionalidade, lhes toldou a consciência, danos que muitos ex-combatentes infelizmente ainda hoje padecem, passados que são quase quarenta anos do fim daquele conflito de má memória.
Eu reconheço que é polémico falar sobre estas questões, e que muitos dos ex-combatentes, apesar de reconhecerem a veracidade das mesmas, preferem ignorá-las, mas negar ou tentar esconder a existência destes comportamentos por parte das nossas tropas no período da Guerra Colonial não é sério nem ajuda a construir a história que se pretende isenta e factual, nem tão pouco as manifestações “patrioteiras” de alguns ex-combatentes (que se aproveitaram das declarações infelizes daquele escritor para exibirem o seu fervor colonialista mais primário) contribuem ou ajudam a que as novas gerações percebam o que de facto estava em jogo nas matas densas de África, nas três frentes de batalha, na Guiné, em Angola e Moçambique, onde de facto (e isso tenhamos que reconhecer) ficou mais que provado de que “nem sempre fomos bons rapazes”.
Carlos Vardasca
17 de Setembro de 2010
[1] Crianças dos aldeamentos que iam buscar as nossas roupas para serem lavadas pelas mães ou pelas irmãs mais velhas.
[2] Adjectivo que deriva do diminutivo de terrorista.
[3] Unidades militares compostas por tropas Pára-quedistas, Comandos e de Fuzileiros.
[4] Unidades do exército compostas por Batalhões ou Companhias Operacionais de Caçadores, de Artilharia e de Cavalaria.
Foto: Dois guerrilheiros da FRELIMO capturados, aguardam em Nangade para serem transferidos para a prisão, sob o olhar atento de um agente da PIDE (de costas) que era presença permanente naquele Aquartelamento no norte de Moçambique. Nangade 1971.
Subscrever:
Mensagens (Atom)
















.jpg)